Autor: Jorge Castro
Nós, os velhos
Para princípio de conversa, o
conceito é relativo. Se perguntarem a um miúdo de seis anos, ele considera os
pais de trinta, velhos. Aos nossos vinte, qualquer indivíduo na casa dos
cinquenta nos parecia mais do que entradote… e por aí fora.
Estão estafadas as conversas que
vão buscar a longevidade eternamente juvenil e activíssima de um Fernando Pessa
em contraponto a qualquer molengas jovem mas eminentemente sorna.
Mas, hoje, o tema volta à ribalta, com contornos mais do que dúbios, por força da contaminação do vírus e da «população de risco», referindo-se toda a gente aos velhos, como uma espécie civilizacional à parte.
Velhos que constituem, no
Portugal que temos, cerca de um quarto da população. Sem querer armar em antropólogo,
sociólogo, estatístico ou outro qualquer especialista – que nem sou – vejo,
entretanto, com apreensão a deriva de alguns opinativos que partem do factor
idade para o associarem à inutilidade ou ao «peso» (leia-se fardo) social que
representam.
E, aqui, é que os néscios, os
apressados (que também são néscios), os direitolas jovens (que, por sua vez,
são néscios apressados) e outras camadas pouco higiénicas da nossa sociedade
mostram clamorosamente que as suas caixinhas cranianas, quiçá por terem
desenvolvido demasiada massa óssea, comportam poucos neurónios e, ainda para
mais, mal articulados.
Vejamos:
– para além do imprescindível
contributo dos velhos na sustentação do agregado familiar, nos dias que
vivemos, que incide sobre o apoio, anónimo e clandestino quase, aos netos e aos
filhos, seja directo, seja indirecto… e quantas vezes através da «subsidiação a
fundo perdido»;
– para além do seu contributo
para a sustentação das incontáveis acções culturais, quase anónimas mas sempre
presentes, que atravessam diariamente todo o País e que contam com a
organização e participação maioritária de velhos – que se desunham,
ingloriamente, as mais das vezes, para contarem com a participação de gerações
mais novas nessas iniciativas;
– para além de serem, em
larguíssima maioria, os velhos a darem um passo em frente em tudo quanto seja
voluntariado hospitalar, em particular, mas social, em geral… geralmente a
custo zero, ainda que muito boa gente activa disso beneficie;
– para além de muitas outras
coisas, porventura de somenos, ocorreu-me, nestes tempos propícios à reflexão,
fazer um breve exercício, recorrendo aos dados fornecidos pelo Instituto
Nacional de Estatística, depois de ter ouvido uma personagem ministerial referir
que cerca de metade dos proventos realizados no turismo – que, pelos vistos, já
representa 17% do PIB, o que não é despiciendo – provém do turismo interno.
Dos residentes em Portugal, portanto.
Ora, basta uma levíssima agitação
das meninges, olhando para os dados de 2018 (os gerais mais recentes, que
qualquer um pode consultar) para rapidamente se concluir que esse turismo
interno é constituído, em cerca de um quarto do seu total, pela população
no escalão etário entre os 65 anos e o infinito. Se, entretanto, lhes juntarmos
a população entre os 45 e os 64 anos de idade – onde já se contam muitos
pré-reformados, reformados e pensionistas – atinge-se um valor de 50%.
Por si só, pois, ou em cúmulo com
o acréscimo do grupo anterior, os velhos deste País representam uma parte fundamental
e imprescindível no movimento do turismo nacional e, nesse contexto – já não
referindo os outros contextos –, mantêm-se como uma parte muito significativa da
população «activa» que sustenta a máquina da economia em movimento…
Já para não falar do IRS que o
Estado Português continua a cobrar a reformados e pensionistas, o que sempre me
pareceu uma aberração inqualificável mas, enfim… isso ficará para outra
croniqueta.
Assim sendo, animem-se, pois, os
velhos! Animemo-nos! Estão em nós os saberes antigos e a experiência de uma
vida vivida, mas estamos, também, perseverando na construção dos pilares do
futuro.
Quanto ao mais, já os meus avós
diziam que vozes de burro não chegam aos céus.
– Jorge Castro
08 de Maio de 2020
Read More
Autora: Ana M. Patacho
QUINQUAGÉSIMO PRIMEIRO DIA
E as notícias ouvem-se; e as notícias vêm-se. E os sítios passam frente aos nossos olhos todos os dias, e as imagens desfolham-se na nossa memória.
Caindo como tordos pelas janelas que vamos rasgando nestes cinquenta e um dias em que um emaranhado dilúvio de informações se converteu numa arca encerrada, atirada ao acaso por um deus desconhecido, que obriga um planeta inteiro a uma acção global perversa, como nunca antes sentida e, muito menos, imaginada.
Je vous parle d’un temps
que les moins de vingt ans
ne peuvent pas connaître
Montmartre en ce temps-là
accrochait ses lilas
jusque sous nos fenêtres
e, se o humilde quarto mobiliado
que nos servia de ninho
não parecia valer muito
foi lá que a gente se conheceu.
La bohème, la bohème
Ça voulait dire on est heureux
La bohème, la bohème.
Mas há dias que custam mais. E há também dias em que deixamos deslizar a memória para fora de nós. E então viajamos como se numa máquina de tempo estivéssemos encaixados. Sozinhos. Sem interlocutor com quem falar senão nós próprios. O silêncio a preencher-nos por inteiro. A carregar o fardo connosco. Ou o silêncio como alter ego único que nos resta?
E eis que Montmartre desce sobre nós na voz quente de Aznavour, com quem curiosamente me cruzei logo a atravessar a porta do aeroporto Le Bourget, na minha primeira chegada a Paris, sozinha, um mês antes do Maio de 68. Foi um bom presságio para a minha estadia.
Aquele cantor arménio pequenino, que nos anos sessenta, simbolizou para largas gerações do mundo ocidental, as minorias de que pouco sabíamos nessa altura. O cantor da voz romântica, mas não só. Marca de toda uma geração gizada pelos ideais de liberdade que vinham da Revolução Francesa, marcantes na Língua e Cultura francófonas.
Em tempos de gerações ainda alheias à corrente anglo-saxónica que os Beatles introduziram na segunda metade do século XX.
La bohème, la bohème. Ça voulait dire on est heureux
Montmartre, onde marquei hotel da última vez que estive em Paris, em 2009, e, tal como da primeira vez também na Páscoa.
Só que dessa vez não havia nas ruas do Quartier Latin pedras arrancadas, nem ouvi palavrões em português de operários que trabalhavam sem poderem saber que ouvidos compatriotas por ali estivessem.
Mas também não me cruzei à chegada, com Aznavour, a atravessarmos ao mesmo tempo, em sentidos opostos, a porta do aeroporto que também não foi o mesmo.
Não voltei a Montmartre porque não voltei a Paris, mas a pandemia trouxe-me as imagens televisivas de uma Montmartre deserta que me levou a estar às voltas com a memória. Nesse dia, o quinquagésimo primeiro do confinamento, La Bohème preencheu-me por completo e a Liberdade voltou a estar inteira na memória.
*
E agora, nos dias cinzentos do isolamento a que estamos submetidos, resta-nos cultivar a liberdade interior. Para dialogar com ela dentro de nós e a podermos manter.
Só a essa nos podemos agarrar. A liberdade de pensamento, a liberdade de obedecer a este confinamento que nos deixa privados de uma coisa tão simples como a actividade do corpo. Que é bom para uma mente sã e tão necessária é aos que foram nele apanhados mais velhos só porque nasceram há mais anos.
Ça voulait dire Somos felizes.
2020, Ana M. Patacho
Read More
Autor: Jorge Castro
CONFINADÍSSIMOS DE PASMO NOS MANTEMOS
confinadíssimos de pasmo nos mantemos
em clausuras que ninguém suspeitaria
num amargor de vida que sustemos
sem sabermos quando nasce um novo dia
pó seremos – cinza breve – só memória
mas enquanto cá vivermos haveremos
de cruzar quantos caminhos da história
sejam feitos pelos passos que nós dermos
porque o mundo é nosso – de nós todos
e o ar que respiramos nossa herança
preenchendo os pulmões com ar a rodos
peregrinos a caminho da esperança
não é parco este mundo mas finito
e todos nós pouco mais que um marinheiro
solitário a caminho do infinito
mas sabendo ter o Sol por companheiro
e no fim da viagem percorrida
acostando ao seu porto de destino
ter em si a noção certa e vivida
de ter feito da sua vida quase um hino
de fulgores – de incertezas – de amores
de ser da lei maior da vida partidário
nessa busca permanente de mil cores
de um viver perenemente solidário.
– Jorge Castro -em 04 de Maio de 2020
Read More
Autora: Ana Maria Patacho
SOBREVIVER
A jangada já estava no mar. Em pleno oceano zangado corria certeira nas ondas alteradas. As vagas tão depressa a faziam transportar para o cume dos infernos elevando-a na torre de vigia ao mais alto dos impensáveis como antecipava mais depressa ainda atirá-la para a caverna funda em que o novo movimento de terror feito os aprisionava.
Durante a minha infância houve uma brincadeira recorrente que acontecia principalmente aos sábados de manhã.
Em cima do divã da sala de estar eram derramadas as caixas de brinquedos conjuntos de três irmãos.
E tudo era chamado a participar independente do estado em que se encontrasse: novo, velho ou assim-assim.
Bolas, bonecas, cavalos mancos e respectivos guerreiros com elmos mas sem viseiras salientes confraternizavam com chaveninhas e colheres e garfos já de plástico, lado a lado com tachos e panelas de lata colorida, mas também com automóveis descapotáveis de cores espampanantes, tambores de vários tamanhos, apetecíveis legumes plastificados e até ovos estrelados tão bem imitados que só faltava um pão gostoso para os degustar.
No divã da sala de estar, uma varanda quase quadrada, envidraçada com pequenos rectângulos que deixavam entrar o sol a eito, eu brinquei anos a fio com os meus dois irmãos. O Salvador, mais velho do que eu um ano, e a Marisol, miúda ainda criança ao pé de nós, com caracóis e nariz arrebitado que viera ao mundo para nos infernizar o juízo, ao Salvador e a mim.
A brincadeira organizava-se como se da arca de Noé se tratasse e o dilúvio estivesse prestes a acontecer. Eu simbolizava intuitivamente a acção bíblica do Velho Testamento, que se centrava na necessidade interior que, frente às interrogações que um cataclismo de que nem sequer sabíamos ainda o nome, nos prende, nos reduz a uma insignificância diluída num todo global a que temos de sobreviver.
Os dois irmãos mais velhos compreendiam, ainda que vagamente, porque tinham de voltar recorrentemente a brincar às jangadas. A terceira, Marisol, era muito pequena, e embora não anjo louro de inocência, no miolo de folhos e saiotes encarnados com bolinhas brancas onde emergiam os estranhos caracóis do cabelo cortado curto, essa, era diligente a tomar a brincadeira a sério e tornava-se um bom grumete a cumprir ordens.
Conservar, a bordo da jangada, no sobe e desce descomunal da pandemia desconhecida, era o lema que acolhia os três irmãos ainda que de maneiras diferentes. Talvez por ser rapaz o Salvador preferiria jogar à bola com os amigos rapazes, o que evidentemente tinha de guardar para quando pudesse estar com eles.
A casa era num prédio antigo de uma rua onde passavam já muitos automóveis e até com bastante frequência grandes camionetas verdes de mudanças. E nós não tínhamos quintal. Quanto ao mais próximo só podíamos avistá-lo à distância do terceiro andar onde morávamos, para o rés-do-chão habitado por uma vizinha velhota que vivia sozinha e não falava com ninguém.
E assim era a sala de estar o que nos restava para sobreviver quando os nossos pais ao sábado de manhã ainda estavam a dormir.
No silêncio gastava-se a transumância da turbulência que atirava a jangada como casca de nós que não iria conseguir sobreviver.
O silêncio jogava-se naquele instante enquanto os vagalhões provocados pela tempestade não esperada varriam da jangada os primeiros destroços de cavalos mancos e cabrinhas desvalidas sem que algum dos três irmãos lhes conseguisse valer.
Eram as primeiras vítimas de um desígnio alheio e insondável, frente às interrogações que cresciam variadas nas cabeças dos dois irmãos mais velhos, o Salvador e a Ana Catarina. Era a primeira vaga de uma procela que varria o convés atirando borda fora bonecos e animais, objectos e pessoas indiscriminadamente.
E tudo acabava à hora do almoço para ser recomeçado na próxima brincadeira que pudessem fazer juntos naquele divã, onde a jangada da sobrevivência esperava por eles para novo combate à pandemia.
Ana Catarina e Salvador precisavam de proteger uma força mental que os levava à procura daquela ideia de jangada e à necessidade intuitiva que sentiam ao fazê-lo, somavam-se mais perguntas que ficavam suspensas, sem respostas, mas permanecendo com uma grande inquietude dentro deles.
Interiorizada sem grande consciência, mas com a determinação de quem tem de obedecer a alguma ordem superior desconhecida para enfrentar novos paradigmas.
E fosse o que fosse, mesmo o mais aterrorizador que viesse a acontecer, eles tinham de sobreviver.
No caos e na ordem, cruzadas todas as variáveis quase infinitas. Na angústia como mesmo no pânico, a pandemia iria continuar. Só eles tinham de permanecer na salvaguarda da mente e de uma consciência plena do sentido da vida.
Mas será que vou conseguir levar até ao fim tal propósito? O paradigma tinha mudado. Mas seria que eu vou querer viver assim, sobrevivente de mim mesmo?
Eu sabia que o livre arbítrio me dava o direito e a legitimidade ética para optar. A vida mudara radicalmente depois do 11 de Setembro em 2001. Os valores volatilizaram-se gradualmente. A Natureza transformou-se sem retorno, exigindo com inteira justiça a reparação de tudo quanto a ganância dos homens a violentou.
Para todos o desafio é aterrorizador. Enquanto isso, o instinto mais forte é sobreviver na pandemia.
Mas será que sei e quero viver paredes meias com o medo, neste contexto que vai ser a normalidade daqui para o futuro?
Para os meus amigos,
para todos os que estão
também confinados.
2020, Ana Maria Patacho,
Sassoeiros, 29 de Abril
Read More
Nota explicativa – Eduardo Martins faz-nos, em três capítulos, um relato «saboroso» do seu recurso a uma unidade hospitalar de Cascais, na sequência de um episódio de saúde…
Autor: Eduardo Martins
A MINHA IDA À URGÊNCIA DO HOSPITAL DE CASCAIS, NO DIA 20 DE ABRIL DA ERA DO CORONAVIRUS – PARTE 1
Tudo começou uns dias mais
cedo. Tenho-me confinado bastante em casa,
Em parte porque não me
importo de estar por cá, fazendo coisas altamente criativas, como ler alguns
livros e alguns e-mails, e enviar alguns, ou ver “posts” do “Facebook”, cada um
mais… “criativo” do que os outros, a fazer jogos de computador, ou a ver
telenovelas da SIC, ou os vários episódios atrasados do “Comissário
Montalbano”, que me deixam voltar a ouvir, e a tentar entender o que é dito
naquela língua tão musical, de que ultimamente só se ouvem as desgraças do
“Covid19” ocorridas em Itália…
Claro que por causa disto
tudo, não tenho praticado muito exercício físico, o que muito irrita a minha
“sócia confinante”, que até confessa já gostar de ir ao supermercado, para os
abastecimentos, devidamente ataviada, só para sair de casa…
Desde há uns três ou quatro
dias, ia-me sentindo por vezes nuns estados gripais, ligeiramente febris, e com
o corpo todo partido. Tomei uns “Paracetamol”, e a coisa lá se foi aguentando…
Ontem tive de ir a casa da
minha irmã, que se tem mantido fechada desde que começou a quarentena. Eu e o
meu irmão, únicos herdeiros da nossa irmã, estamos a tratar da venda da dita casa.
Uma das coisas que é necessária para isso, é uma “Certificação Energética”, e
já tinha ficado combinada a visita do Perito que a elabora, às 15 horas. Eu e o
meu irmão lá estávamos devidamente “mascarados”…
Voltei para casa, custou-me
a subir a escada, cheguei ao segundo andar a respirar com dificuldade,
eventualmente por ainda ter a máscara, mas também porque cada vez que inspirava
com mais força, me dava uma dor que me parecia muscular do lado esquerdo,
abaixo das costelas.
Também me sentia um bocado
enjoado, aliás ultimamente tenho andado com “halitose”, o que muito incomoda a
Ana, como se compreende, e que eu também sinto, por ter a boca muito seca, e
andar sempre a beber água…
Contei destas minhas dores à
Ana, e ela confessou que quando me viu chegar, branco, e a respirar com
dificuldade, pensou que eu ia ter outro enfarte, 4 Anos, 3 Meses e 9 Dias
depois de ter dado entrada pela primeira vez na Urgência do Hospital de
Cascais, com um Enfarte…
Considerámos que o melhor
era telefonar para o SMS24.
Muni-me do meu Cartão de
Cidadão, pus o telemóvel em “alta voz”, e liguei para o “808242424”… Fui
rapidamente atendido, sendo debitada automaticamente a lista das opções
possíveis, tendo eu escolhido como mais
adequada, a opção “2”.
Uma senhora atendeu-me quase
imediatamente, tratámos da minha identificação, da autorização para ser gravado
o telefonema, e da descrição do que me queixava, e passou-me para um
enfermeiro, que aprofundou o diagnóstico. Dada a minha idade, e pertencendo eu
a um “Grupo de Risco” e a situação pandémica em que todos vivemos,
independentemente dos outros sintomas que relatei, aconselhou que me dirigisse a um “Centro de Saúde” para fazer o
“Teste CoronaVirus”.
Aqui na minha área de residência, o local aconselhado era o “Hospital António José de Almeida” mais conhecido como “Hospital de Cascais”
A MINHA IDA À URGÊNCIA DO HOSPITAL DE CASCAIS, NO DIA 20 DE ABRIL DA ERA DO CORONAVIRUS – PARTE 2…
Como tinha relatado ontem, o
enfermeiro que me atendeu no SNS24, aconselhou que me dirigisse a um “Centro de Saúde” para fazer o
“Teste CoronaVirus”, porque dada a minha idade, e os meus anteriores episódios
cardíacos, eu pertenço a um “Grupo de Risco” na situação pandémica em que todos
vivemos, independentemente dos outros sintomas que lhe relatei.
Aqui na minha área de
residência, o local aconselhado era o “Hospital António José de Almeida” mais
conhecido como “Hospital de Cascais”, e o enfermeiro disse-me que “já me tinha
sinalizado” para o dito hospital, e que me devia dirigir lá e procurar a
sinalização “COVID19”. Perguntei se chamava uma ambulância, ou se podia ir no
carro da minha mulher. Ele disse que podia ir com a minha mulher, mas que ela
tinha de ficar no carro… e que eu devia levar máscara…
Lá fomos. Na zona das
Urgências, que visitara pela última vez no dia 21 de Dezembro do ano passado,
quando a minha irmã fora internada, havia muito menos movimento que dessa vez.
Cá fora, uma senhora a telefonar, outra
a fumar, e um motorista de uma das duas ambulâncias que estavam estacionadas de
portas abertas, que me apontou o local de entrada, que de facto não estava
sinalizado, que eu visse, com a indicação “COVID19”.
Entrei, o segurança
mascarado disse para tirar uma senha da máquina, mas não havia mais ninguém e
fui logo chamado a um “guichê”. Disse que vinha sinalizado do SNS24, o
funcionário confirmou, disse para ir para a Sala de Espera, e esperar junto ao
gabinete 2, até ser atendido. Estava uma utente junto à porta entreaberta do
referido gabinete, e eu guardei a distância de segurança. Eu já conhecia aquela
Sala de Espera. A última vez que lá estivera foi no tal dia em que a minha irmã
tinha sido internada, e nessa altura havia muito mais gente. Agora as filas de
cadeiras estavam mais afastadas, em cada duas cadeiras seguidas havia letreiros
“COVID19”, para que as pessoas não se sentassem nelas para não ficarem tão
juntas. Mas ao todo, sentadas, estavam duas pessoas, bem afastadas uma da
outra.
Uma das coisas de que me
lembrava da última vez que aqui estivera, e que tinham grande procura, eram as
máquinas distribuidoras de café e de outras bebidas, e as de produtos
alimentares por vezes não os mais adequados a uma alimentação saudável,
sobretudo em ambiente hospitalar…As máquinas agora não estavam lá.
A utente que estava à porta
entreaberta do gabinete 2 saiu, e eu avancei e espreitei, e uma senhora que lá estava sentada a uma
secretária mandou-me entrar e sentar. Estava devidamente equipada com viseira,
máscara, uma touca e uma bata plástica verde por cima de uma farda também plástica
verde, luvas azuis e penso que também umas proteções dos sapatos em plástico
azul, embora não os tenha visto, mas pelo menos era esse o “Equipamento
Standard” de todo o pessoal que passei a ver a partir de então naquela zona da
Urgência.
Fez-me a triagem,
identificou-me, e colocou-me uma pulseira verde, com um código de barras, uns
números, o meu nome, data de nascimento, sexo, data e a hora de entrada –
18:20. Depois mandou-me seguir para uma sala de espera que eu também já
conhecia, porque era um dos sítios onde a minha irmã também permanecera no dia
21 de Dezembro do ano passado, e onde eu e o meu irmão a íamos espreitar de vez
em quando.
Agora também tinha muito
menos cadeiras, sem nenhum letreiro “COVID19”, e duas camas hospitalares com
pessoas deitadas. Sentadas pelas cadeiras devidamente espaçadas, estavam uma
dez pessoas mascaradas. Telefonei então à Ana, a fazer o primeiro “Relatório de
Progresso”, e depois resolvi procurar no “Google” o significado das “cores das
pulseiras nas urgências”, e fiquei a saber que é o “Código de Manchester”, que
indica, no meu caso, e no da maioria dos outros presentes, que a Verde é “Sem risco de morte imediato. Somente será
atendido após todos os pacientes classificados como VERMELHO E AMARELO”. Fiquei
muito mais tranquilo… Depois reparei que pelo menos os doentes das camas tinham
pulseiras amarelas…
Dai a um bocado, uma pessoa
com o “Equipamento Standard”, apareceu à porta, chamou
pelo meu nome, eu levantei-me, ele viu-me e fez sinal para me sentar de novo.
Entretanto outras duas
pessoas também com o “Equipamento Standard”, vieram junto das camas, e deram
umas “bombadas” de oxigénio nos acamados, que à vez, foram levados por aquelas
pessoas, para outros lados, com garrafas de oxigénio penduradas das camas.
Depois a mesma pessoa que anteriormente me chamara, veio à entrada da sala, chamou o meu nome e pediu para a acompanhar, corredor fora, até a um gabinete, com duas secretárias e as respectivas cadeiras, uma “marquesa”, e duas cadeiras bem afastadas das secretárias, numa das quais me mandou sentar. Parti do princípio, que este devia ser “Médico”.
A MINHA IDA À URGÊNCIA DO HOSPITAL DE CASCAIS, NO DIA 20 DE ABRIL DA ERA DO CORONAVIRUS – PARTE 3
Mas aquela pessoa que me tinha
chamado, devia ser “Médico”…
Foi assim que terminei a
Parte 2 da história da minha ida à Urgência do Hospital de Cascais…
E devia ser “Médico” e não
“Médica”, pelo tom de voz, já que do corpo, com aquela bata plástica verde
largueirona, presa atrás com banda adesiva, não se conseguia perceber mais nada
senão uns olhos, por trás duns óculos, por trás duma viseira…
Fez-me uma data de perguntas
sobre a minha história clínica, os meus problemas cardíacos, a medicação que
tomava, e sobre a razão que me levara até ali desta vez. Foi tomando nota,
levou o carrinho que tem o termómetro, o aparelho de medir a tensão arterial e
o nível de oxigénio para o pé de mim, fez as respectivas medições, não tinha
febre no ouvido, o oxigénio estava bom no dedo indicador da mão direita, e a
tensão arterial no braço direito estava a 17 -10… Até repetiu outra vez, e
continuou alta… eu disse-lhe que em casa habitualmente anda nos 13 – 8…
Escreveu mais umas coisas no
computador, mandou-me ir de novo para a sala de espera, e que me iam fazer uns
exames.
Fiz o segundo “Relatório de
Progresso” à Ana, que continuava confinada no automóvel…
Entretanto iam passando pela
sala de espera, camas hospitalares, com pessoas mascaradas e com garrafas de
oxigénio atrás, empurradas por pessoas com o “Equipamento Standard”, presumo eu
que destas vezes eram “Auxiliares”. e também algumas macas empurradas por
bombeiros com máscara e viseira.
Passado algum tempo, não
posso precisar quanto, vieram chamar-me para ir à “Imagiologia” fazer um “Raio
X”. Fui até meio do corredor acompanhado por um “Auxiliar”, que aí me entregou ao
“Auxiliar” que vinha da “Imagiologia” e trazia um doente numa cama hospitalar.
Foi feita uma espécie de “troca de prisioneiros”…
Depois de fazer vários “Raio
X” ao tórax, sobretudo ao lado esquerdo, abaixo das costelas onde me doía mais,
fui acompanhado até meio do corredor pelo “Auxiliar”, e aí ele perguntou-me se
eu sabia ir até à sala de espera… Eu respondi que sim, e ele deixou-me ir…
Fiz novo “Relatório de
Progresso” à Ana, que me comunicou ter feito vários telefonemas a familiares e
pessoas amigas a contar-lhes onde se encontrava confinada, e por que motivo…
Entretanto eram quase sete e
meia da tarde, veio uma “Auxiliar” à sala de espera, perguntar se alguém queria
jantar… eu disse que ainda não me apetecia, e perguntei se ainda iria demorar
muito até ficar despachado, o que ela disse desconhecer… Das dez pessoas que
ali estavam, três quiseram jantar, a “Auxiliar” foi trazendo os tabuleiros,
elas foram comendo, umas mais, outras menos, mas sempre fazendo críticas à
qualidade do repasto…
Novo “Relatório de
Progresso” para a Ana, com o tema alimentar… e ela que já estava ali há um ror
de tempo sem nada para comer, nem onde o ir buscar…
Às tantas, uma
“Enfermeira” veio chamar-me para ir
fazer análises, e mandou-me sentar num dos dois sofás que havia num recanto à
esquerda de quem vinha da sala de espera. Nesta sala, do lado direito, havia
umas dez camas, todas ocupadas com mascarados. No meio da sala, uma quantidade
de mesas com computadores e pessoas com “Equipamento Standard” em frente deles.
A “Enfermeira” que me tinha
chamado, puxou para o pé de mim o carrinho
com o material, e disse-me, com uma voz muito jovem, que me ia fazer
umas análises ao sangue, e ministrar alguns medicamentos, e para isso ia pôr-me
um cateter nas costas da mão direita, para tirar o sangue e também dar alguns
remédios por aí, mas também me ia dar uma injecção na nádega… Além disso, ia
fazer a zaragatoa para ver se eu tinha o vírus.
Primeiro tirou pelo cateter
o sangue para as análises, depois ligou um saco com “Nolotil”, e não sei se com
“Relmus” , analgésicos e relaxantes. A
injecção foi de “Estreptomicina”, talvez
para aliviar uma eventual pneumonia…
Entretanto veio sentar-se no
outro sofá um dos utentes da sala de espera, que pelas conversas que eu ia
ouvindo, tinha quase um doutoramento em doenças de todo o género, com altíssima
permanência em urgências hospitalares… Enfiaram-me a zaragatoa na boca, com a
língua de fora, e não me custou muito.
Custou-me bastante mais quando me enfiaram as zaragatoas nas narinas… parece
que elas chegaram até aos pulmões…
A “Enfermeira” perguntou se
me tinha custado, e eu respondi que deve haver coisas piores, e o vizinho
meteu-se na conversa, perguntando se eu alguma vez tinha feito alguma biopsia…
eu respondi que não… ele, entretanto saiu, não sei se por não gostar da
resposta, ou por já estar despachado…
Perguntei à “Enfermeira”, como
era agora o procedimento do teste do Corona Vírus, e ela esclareceu-me que
seguia para a “Plataforma” para análise,
e depois o resultado era enviado para o meu “Centro de Saúde”, e me
comunicavam o resultado pelo telefone…
Mandaram-me para a sala de
espera, a empurrar a torre onde estava pendurado o saco do medicamento a
escorrer para o cateter, até parar de pingar.
Novo “Relatório de
Progresso”, com algumas dificuldades de manuseamento do telemóvel devido ao
cateter e ao tubo, mas lá consegui…
Quando deixou de pingar o
líquido, fui entregar o material à sala ao lado, à “Enfermeira”, e voltei para
a sala de espera.
À porta que dava para o
corredor, surgiu uma pessoa com o “Equipamento Standard” que chamou o meu nome,
e me mandou segui-la. Fomos até ao fim do corredor e entrámos no mesmo gabinete
onde o primeiro “Médico” me tinha atendido. Mandou-me sentar na marquesa,
sentou-se à secretária, disse que era
médica, e perguntou-me o que é que se passava comigo… Eu disse que já tinha
contado ao colega dela há um bocado, ela respondeu que houve mudança de turno,
mas que ia ver no computador, confirmou os meus dados, e disse que os “Raio X”
ao tórax eram parcelares, e de lado, e eu disse que era de onde me queixava, mas
ela disse que os “Raio X” e as análises estavam todos bem, que me ia auscultar
e medir a tensão e que em princípio me ia dar alta. Na auscultação estava tudo
bem. O aparelho da tensão era o mesmo que me tinha dado 17-10, e continuava a
dar o mesmo valor. Perguntei se o aparelho não estaria avariado, ou se eu
estaria com o “Síndrome Hospitalar”, ao que ela respondeu: “Diga-me o senhor…,
mas vou dar – lhe um comprimido para baixar a tensão, e já agora vamos medir a
tensão noutro aparelho aqui ao lado…”. Deu precisamente o mesmo valor…
Fomos ter com a
“Enfermeira”, para me dar o tal comprimido para a tensão, e me tirar o cateter,
a “Médica” entretanto foi-se embora, e eu perguntei se ia ter Alta, a
“Enfermeira” foi ter com uma das pessoas que estava num dos computadores,
perguntou-lhe qualquer coisa, e eu vi a cabeça dessa pessoa a abanar para cima
e para baixo… A “Enfermeira” veio dizer-me que me podia ir embora…
Assim fiz, passei pela sala
de espera desejando as melhoras aos que ficavam, e dirigi-me para a saída,
dizendo adeus ao segurança, que também me desejou as melhoras, e encaminhei-me
para o carro da Ana, que estava convivendo com outros vizinhos expectantes.
Eram quase 23 horas.
Arrancámos para casa, e eu
fui telefonando às pessoas com quem a Ana tinha falado, a dizer que já estava
na rua.
Quando chegámos a casa, a
Ana disse para despir a roupa toda e metê-la na máquina de lavar, menos o
casaco e o boné, que esses iriam depois para a limpeza a seco. E eu tomei um
duche e vesti o pijama e o roupão.
Entretanto tocou o telemóvel
dela, era um número fixo desconhecido, ela não atendeu. Logo a seguir tocou o
meu telemóvel, era o mesmo número fixo, e eu atendi. Perguntaram se era eu, disse
que sim , disseram que era do Hospital de Cascais, e se eu já estava em casa…
disse que sim, e reponderam-me que então tinha de voltar ao hospital, porque
tinha havido uma falha de comunicação e a médica não me entregara uma receita…
Perguntei se podia lá ir a
minha mulher, porque não me estava a apetecer muito vestir-me outra vez, porque
já estava de pijama, e ele disse que sim, que podia, e para ela dizer que ia
buscar uma receita em meu nome ao gabinete 7.
A Ana, que não comia nada há
uma quantidade de tempo, pegou nuns pacotinhos de bolacha Maria, e lá arrancou
para uma noite de chuva a caminho do Hospital…
Quando lá chegou, conforme
contou quando chegou a casa, o funcionário do atendimento, percebeu logo que
era o meu caso, e veio a própria médica, desta vez de bata branca, trazer-lhe a
receita, com um analgésico e antipirético, e um relaxante muscular e
antiespasmódico…
No dia seguinte de manhã, recebi outro telefonema de mesmo número fixo, a perguntar se eu era o senhor Eduardo João Martins, e a comunicar que estava a falar do Hospital de Cascais, só para me dizer que o Teste do Corona Vírus dera negativo.
Eduardo Martins
Read More
Autor: Henrique Seruca
O HOMEM DA BOINA BASCA
Corria o ano de 1972. Eu já tinha o meu estatuto legalizado em França, como refugiado político, e um passaporte concedido pelas Nações Unidas. Conseguira inscrever-me num Curso de Estudos Especiais em Cirurgia Geral no Hospital Purpan, em Toulouse, e obtivera uma bolsa de estudos da Fundação Calouste Gulbenkian.
Com uma licenciatura portuguesa em Medicina, não tinha a mínima hipótese de poder trabalhar como médico em qualquer parte da França. Com sorte, estava a trabalhar como ajudante de enfermagem, “au noir” (clandestinamente). E eu queria especializar-me em Cirurgia Cárdio-Vascular. Por isso, fiz uma pesquisa dos principais centros médicos com aquela especialização, em todo o mundo. O mais próximo ficava na Suíça, em Genève. Assim, apanhei o comboio para aquele país.
À chegada, fui retido no posto fronteiriço durante quase duas horas. O meu estatuto de refugiado político despertava desconfiança nas autoridades. Para mais, eu estava de fato e gravata, o que era estranho para a minha idade, quatro anos após o Maio de 68 em França. Finalmente, deixaram-me passar e pisar terras helvéticas.
Fui directamente para o Hospital Cantonal de Genève, ao serviço de Cirurgia Cardio-Vascular, para falar com o Professor Charles Hahn, uma das sumidades mundiais naquela especialidade. Espantosamente, fui recebido, com muita cordialidade. Expus a minha situação e as minhas ambições e ele esclareceu-me: só dali a cerca de dez anos ele teria uma vaga para eu, eventualmente, poder entrar como interno. Até lá, já as vagas estavam todas preenchidas. Sugeriu-me ir trabalhar, entretanto, como clínico geral, no Hospital de La Chaux-de-Fonds, que precisava de um médico.
A minha decepção não podia ser maior. A possibilidade de trabalhar como clínico geral em La Chaux-de-Fond durante uns bons 10 anos, até ter uma hipotética entrada numa especialização em cirurgia cardio-vascular, estava fora de questão. Não havia justificação para eu prolongar a minha estadia na Suíça.
Dirigi-me à estação ferroviária e comprei um bilhete em 3.ª classe de regresso a Toulouse, no comboio da noite. Não me podia dar ao luxo de pagar um quarto em Genève e dormir numa cama, nessa noite. Tentaria dormir no comboio.
Comprei uma sanduiche e uma garrafa de água no bar da estação. Foi a minha refeição do dia.
Na hora de entrar no comboio, procurei o meu lugar. As carruagens estavam divididas em compartimentos fechadas por portas, com um banco corrido de cada lado da divisão. Cada banco era destinado a três pessoas. O meu compartimento estava vazio e eu achava-me cheio de sorte. Àquela hora a frequência era muito reduzida e talvez eu me pudesse estender num dos bancos e dormir na horizontal. Foi uma pura ilusão. À hora da partida entrou um homenzinho baixo, de óculos, com uma malinha, boina basca na cabeça e ar ofegante. Perguntou-me se a carruagem tinha mais algum passageiro, ao que eu respondi negativamente. Ele tirou a boina e instalou-se no banco em frente ao meu.
Mal o comboio partiu, preparei-me para me estender no banco e tentar dormir, mas o homem meteu conversa comigo. Perguntou-me que idade eu tinha, de onde era, para onde ia, o que eu fazia. Eu, muito contrariado, lá fui respondendo, desejando que o homem se calasse. Qual quê, ele não parava de me fazer perguntas e eu desesperava. Eu disse que era médico e refugiado político em França, e ele informou-me que era padre e que gostaria muito de ter a minha opinião sobre vários assuntos. E a conversa começou a fluir, espantando o meu sono e cansaço.
O primeiro tema foi o problema do aborto. Na época, eu era absolutamente contrário a qualquer tipo de aborto que não fosse para salvar a vida da grávida, em caso extremo. E ele contrapunha que em determinadas circunstâncias era preciso ponderar muito bem os condicionantes. Queria saber o que eu achava em situações de violação, de estupro, de prostituição, de condições de miséria extrema. E queria que eu apontasse soluções para as situações extremas em que eu me opunha ao aborto. Para minha surpresa, ele tinha pontos de vista de tolerância, que eu não aceitava, e foi justificando, com lógica.
Desse tema passou a outro, e mais outro, e mais outro. Todos diferentes, de grande interesse e importância.
Quando dei por ela, era manhã e o comboio parava em Toulouse, com destino a Paris. A noite passara num instante, numa das conversas mais apaixonantes que eu tive em toda a vida. Eu saía ali e ele seguia para Paris, para o convento de Saint Jacques. Despedimo-nos, pediu a minha direcção e deu-me um cartão de visita seu, que eu guardei no bolso, sem olhar.
Cheguei a casa, desanimado com a minha deslocação a Genève, mas enriquecido por uma magnífica troca de ideias. Beijei a mulher e os filhos, arrumei a pasta e o casaco e lembrei-me do cartão de visita. O nome não me era estranho: Hervé Legrand. As notícias do dia esclareceram-me.
O padre era um dominicano francês de grande relevo, pelos artigos que li nos jornais. Regressava de Genève, onde representara a igreja Católica numa comissão acabada de criar entre a Conferência das Igrejas Europeias (KEK) e o Conselho das Conferências Episcopais Europeias (CCEE), que englobava representantes católicos, protestantes, ortodoxos e anglicanos. Uma importantíssima reunião das várias religiões cristãs.
Dias depois, recebi uma carta do padre Hervé Legrand, com um artigo seu, muito interessante, sobre o problema do aborto. Com grande pena minha, perdi-o na minha mudança para o Canadá.
Como diria Fernando Pessa, do homem de boina basca: “E esta, hein?…”
Read More

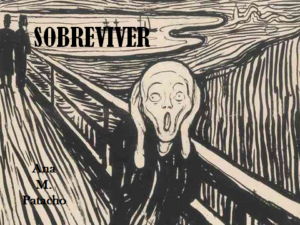


Comentários recentes
com a Espaço e Memória (2023)